Um país milenar, governado por dinastias até o ano de 1911, a China muda seu sistema político transformando-se em república em 1919. Em 1949, Mao Tsé Tung assume o poder com o partido comunista e dá início a Revolução Cultural. O objetivo era se livrar da antiga cultura Chinesa; trabalhadores e estudantes perseguiam pessoas consideradas conservadoras. A partir de então, uma era sombria para a produção audiovisual no país inicia-se. Mao fecha o Instituto de Cinema de Pequim em 1966, a qual só é reaberta em 1976, dois anos após a morte do tirano.
Nesse período de mais de 10 anos, em que a produção de filmes nacionais era quase zero, o pouco que se tinha eram obras que ilustravam correntes e ideais políticos e tinham a função de manipular as massas. As obras de uma realidade idealizada eram filmadas em estúdio e tinha sempre como herói uma figura comunista. A idolatria por Mao Tsé Tung estava em toda a parte.
O Instituto de Cinema de Pequim reabre em 1978 com 150 jovens aprovados para estudar na escola. E, apesar da censura à filmes estrangeiros que não estivessem de acordo com a ideologia comunista, esses estudantes – dos quais muitos foram mandados, na época da Revolução Cultural, ao campo, onde deveriam ser reeducados pela massa camponesa – conseguiram descobrir clássicos de outros cinemas (chinês, soviético e americano) das décadas de 1930 e 1940. Entre esses estudantes estavam nomes que se tornariam muito importantes, como Chen Kaige (“Adeus minha concubina”, 1993) e Zhang Yimou (“Lanternas vermelhas”, 1991).
Surge então, a chamada 5ª geração do cinema chinês que, como as demais gerações intelectuais, foi nomeada a partir de um grande movimento político. E era formada por esses estudantes, que trouxeram para suas produções o que tinham vivenciado em comum: os reflexos da revolução cultural instalada por Mao.
Criaram uma espécie de Nouvelle Vague chinesa e era caracterizada pelo rigor formal que apresentavam em suas obras cinematográficas, exemplificados nos enquadramentos e na fotografia.
“1 and 8” (1983, Zhang Junzhao) é um marco nessa mudança de produção do país. Apresenta um enquadramento assimétrico, com atores que raramente ficam ao centro da cena. Não foi aceito pelos preceitos de montagem do qual os antigos faziam uso e foi proibido até 1987. Após essa produção, Chen Kaige uni-se ao grupo (que já contava com Zhang Yimu) e realizam “Terra Amarela” (1984), o qual se torna o primeiro filme dessa nouvelle vague chinesa, onde o Rio Amarelo compõe cenas como uma personagem.

Após os anos 1980, a China passa a tentar explorar um cinema mais comercial. Com a abertura à economia de mercado, as produções passam a contar com apoio e investimento de outros países, originando um esquema de coproduções; e os filmes chineses também passam a ser recebidos com louvor em outros países. Os filmes que explanavam a cultura do kung fu foram o grande atrativo. Paralelamente à esse incentivo a filmes comerciais, estava acontecendo a tentativa do governo de repreender, através de campanhas de controle, os filmes feitos pelos cineastas da 5ª geração que mostravam a verdade nua e crua do país, fatos esses que o governo queria esconder.
A 6ª geração desse cinema teve seu marco inicial com o massacre que ocorreu, por parte do exército do governo, em praça pública em 4 de julho de 1989, onde estudantes, operários e colarinhos brancos manifestavam-se a favor da abertura política e econômica da China, da democracia.
Os estudantes de cinema são enviados aos campos de reeducação, criados ainda na época de Mao. Após saírem desses campos, apesar de tudo, os cineastas conseguiam ainda burlar as regras impostas pelo governo e criam estratégias para realizarem seus filmes com o que tinham, bem como conseguiam divulgá-los. Suas produções passam a ser “underground”. Tornaram-se Independentes.
Os bastardos de Pequim (Zhang Yuan, 1992) marca essa nova era em sua estreia no festival de Roterdã de 1994. Os cineastas passam a ter uma intensa relação com o social, onde personagens excluídos da sociedade ganham destaque. Com muita câmera na mão, passam a fazer um cinema documental e humanista.
Um filme marcante nesse contexto foi “O outro lado da cidade proibida” (1997, Zhang Yuan), que despertou a ira do partido comunista, pois era o primeiro filme a abordar questões de gênero com personagens gays.
A partir de então, a censura no país só cresce e o governo passa a fazer espécies de “listas negras” com nomes dos cineastas que seriam considerados uma ameaça a seus interesses. Chegam ao ponto de proibir laboratórios de revelarem os filmes de certos cineastas e as autoridades fazem cada vez mais pressão.
Nos últimos anos o que se têm visto do cinema chinês, principalmente após a entrada do país na Organização Mundial do Comércio (OMC), é que os poderes públicos se viram forçados a modernizar suas produções cinematográficas. Com produções cada vez mais comerciais, as organizações multiplex invadem o país, o que transforma esse tipo de atração cultural, um privilégio das classes mais abastadas.
A saída para filmes de autores é a pirataria, que faz parte da vida da maioria dos chineses também com relação à aquisição de filmes comerciais. O mercado gira em torno das grandes produções e as autoridades fazem vistas grossas para com as produções artísticas independentes e os problemas que estas enfrentam no mercado exibidor.
Por Letícia Vilela
* Referência Bibliográfica: GLACHANT, Isabelle . O cinema chinês: da política e da censura à busca da bilheteria(1978- 2007). In: BATISTA, Mauro; MASCARELLO, Fernando (orgs.). Cinema mundial contemporâneo. Campinas: Papirus, 2008.
Quer estar por dentro do que acontece no mundo do entretenimento? Então, faça parte do nosso CANAL OFICIAL DO WHATSAPP e receba novidades todos os dias.




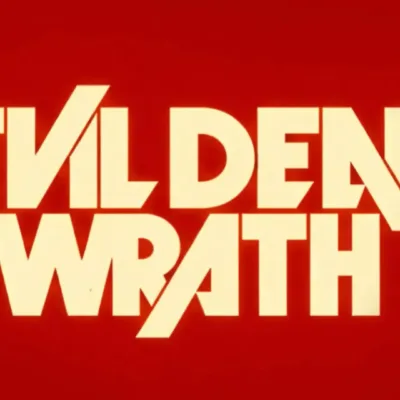




Existem erros gigantescos nesse texto. O maior é ignorar a Revolução Chinesa como uma guerra de libertação da ocupação do Império japonês; outro, é falar de Mao como um “tirano”. Qual a base teórica ou conhecimento concreto a autora tem para afirmar isso? Outro erro é que Mao não morreu em 1974, mas em 1976 e o tal Instituto de Cinema não ficou fechado durante a Revolução Cultural Proletária (1966). Existem muitos filmes dessa época. O que se mudou foi o foco das produções e se procurou dar mais espaço à cultura proletária e não à decadente ideologia burguesa.